Há 15 anos, desde que me mudei para este prédio à entrada da
cidade, que a casa em ruínas com o quintal abandonado, onde dominavam duas
árvores de fruto por entre as silvas e as ervas que iam crescendo e
desaparecendo no ciclo ininterrupto das estações do ano, fazia parte da minha
paisagem.
Era um pequeno oásis natural, onde os frutos cresciam e
apodreciam, caindo no chão e, sobretudo, pululavam pássaros e aves maiores, nas
suas rotinas e devaneios diários. Ah! e quanto eu gosto de apreciar as aves e a
sua liberdade, um dos meus maiores deleites, um dos meus prazeres desde sempre.
O pequeno quintal era fronteiro de uma cangosta por onde em
miúdo me lembro de ter passado uma vez numa incursão ao musgo, por alturas do
Natal, e isolado da circular que rodeia a cidade por um campo com uma casa de
lavrador muito velha, onde os caseiros idosos cultivavam, na sua maior extensão,
milho, durante o Verão, batatas e mais alguns produtos hortícolas, para além do
vinho que produziam na latada a encimar o caminho que percorria toda a extensão
do campo desde o portão de acesso, mais próximo do prédio onde habito, até à
velha casa sua residência até à morte, primeiro de um, depois do outro, apenas
presumo.
Do lado oposto, os campos da casa de saúde mental, pouco
cultivados e usados para o que quer que seja, e, no lado mais afastado, junto à
circular, meia dúzia de pequenas casas, arranjadas e bonitas, de gente modesta.
Foi este o meu quadro desde que me mudei para o prédio.
Aproveitava os minutos de relaxe para vir à varanda observar os pássaros,
passear os olhos pelo verde, por aquele pedaço de natureza.
Um dia, o que restava do telhado da velha casa caiu com o
mau tempo de algum Inverno, mas tudo permaneceu bem. As ervas continuavam a
crescer, os frutos a cair, os pássaros a voltear pelas árvores, pelas ruínas
cobertas de trepadeiras.
No Verão, no campo vizinho, apareciam os netos do velho
casal que corriam por entre as ervas, perdiam-se no meio do milho e obedeciam
aos assobios estridentes dos adultos, chamando por eles.
Os idosos, provavelmente, acamaram. Seguia os acontecimentos
à distância, como num filme mudo, da varanda do sexto andar onde habito.
Comecei a sentir a falta deles. O carro da assistência da Santa Casa da Misericórdia
cá da cidade começou a visitar o local, a entrar pelo portão, a percorrer aos
solavancos o caminho de terra, irregular, até à velha casa e voltar,
diariamente.
Não consegui reparar noutros pormenores. Apenas que o campo
deixou de ser cultivado, os vizinhos idosos desapareceram na voragem do tempo.
Os filhos ainda se juntaram mais um ou outro ano para tirar algum proveito da
vinha, até que ficou apenas um a habitar a velha casa.
Tratava-se de um homem de meia-idade, solteiro, com um tasco
na cidade, que todos os dias, à mesma hora, fazia o caminho de casa até ao
portão, saindo para o tasco, na cidade. Ao final do dia, ao fim da tarde,
regressava a casa, fazendo, sempre a pé, o caminho até à habitação.
Pouco tempo teve esta vida, enquanto o campo, grande demais
para ele, ficava completamente abandonado. Uma vez ou outra ainda se atirou às
ervas que cresciam desalmadamente e lhe tolhiam o passo no caminho. Fazia
alguns trabalhos agrícolas no final da tarde, depois do encerramento do tasco,
numa pequena horta perto de casa.
Soube, por um ou por outro amigo, alguns pormenores da sua
vida. Que o senhorio do tasco lhe tinha dado um prazo para fechar, e assim foi.
A rotina horária de ida e volta entre o tasco e a casa foi interrompida. O
caminho, do portão para a casa, foi abandonado e o homem passou a entrar e sair
diretamente pela estrada usando um colete refletor. Os donos do campo vieram
uma vez, espreitaram por sobre o muro em poses ridículas e, passados uns dias,
veio um homem com um trator que revolveu toda a extensão do campo cortando
cerce toda aquela vegetação incluindo pequenas árvores e arbustos que
proliferavam livremente. Era Primavera e fiquei com um nó na garganta com a
suspeita do mal que aquela tarefa causaria à vida selvagem que por ali havia. O
certo é que, no espaço de apenas dois ou três meses, de novo estava tudo
coberto pela mesma vegetação, as árvores ou arbustos já tinham recuperado
grande parte do seu porte. Do único inquilino da casa perdi o rasto.
Sei que aquele campo está marcado como zona de construção.
Que os seus proprietários, meus antigos conhecidos e vizinhos, herdeiros de uma
avantajada fortuna, são uns conhecidos absentistas, sem rasgo, nem inteligência
para dar uso às inúmeras propriedades e capital que possuem.
O ano anterior ao deflagrar da pandemia foi um ano de
mudanças drásticas para aquele pedaço de paisagem, aquele pedaço de vida, que
me preenchia a vista e entretinha o espírito.
De repente vieram uns homens com uma máquina, rebentaram com
o portão de acesso ao quintal da casa arruinada e rapidamente começaram a
refazer os muros vizinhos alargando o acesso à estreita faixa de terreno e
tornando quase impraticável a passagem na cangosta.
Era Verão e os trabalhos tornaram-se mais intensos.
Na rua de acesso ao meu prédio, cuja única saída era a
cangosta, começou um movimento incessante de camiões que fez desaparecer a casa
em ruínas, toda a vegetação luxuriante do pequeno quintal e depois toda a terra
arável. No local ficou uma enorme cratera, de forma retangular, aproveitando
praticamente todo o espaço disponível.
Ao Verão sucedeu um Outono e um Inverno chuvosos e os
trabalhos não pararam por um minuto. Das 7 ou 8 da manhã, até as 6 ou 7 horas
da tarde, consoante o horário de Verão ou de Inverno, não mais do que uma dúzia de homens,
imigrantes africanos e latino-americanos, trabalharam duramente submersos na
água com que a chuva persistente alagou o buraco.
Construíram afincadamente os alicerces da construção, as
primeiras paredes, metidos na água e no barro que ficou depois das
retroescavadoras terem completado o seu trabalho. Um corrupio de camiões
transportou toda aquela terra e barro para algures, percorrendo a rua de acesso
ao meu prédio, impedindo o estacionamento dos automóveis de um dos lados da rua
para que pudessem transitar.
Passou o ano e os primeiros meses de 2020 trouxeram-nos a
pandemia de covid-19 que alarmou o mundo. Em Março, tudo parava num
confinamento geral que durou meses, mas aquela dúzia de homens não parou um
minuto. Indiferentes a tudo, continuaram no seu trabalho laborioso de erguer,
andar a andar, as paredes e as lajes de betão que separavam cada um deles.
Perante o meu olhar interessado e chocado, a construção só
se deteve no sexto andar acima do solo. Os homens chegavam pela manhã e eram
recolhidos ao final da tarde pelas carrinhas que vinham de outras obras.
O dono da obra, um autêntico judeu - um adjetivo usado por
um amigo meu noutro contexto, mas o termo exato para designar aquele homem -
era um tipo já avançado na idade, careca, com uma boina na cabeça e o casaco
pelos ombros, que não parava um minuto.
Dono de um mercedes velho de matrícula espanhola, o homem
entrava e saía na obra umas vinte vezes ao dia indiferente ao tempo ou à lama.
Era ele quem dirigia pessoalmente o andar dos trabalhos enquanto se ausentava possivelmente
para tratar de assuntos que diziam respeito ao seu andamento. Entretanto
começou a trocar de mercedes, ora trazia o velho, ora um mais novo.
Parava junto ao portão, sempre fechado e galgava pela obra
dentro indiferente aos montes de terra revolvida e ao entulho que enchiam o
curto perímetro disponível depois de o prédio ter começado a crescer. Uma
estreita faixa de menos de vinte metros desde o muro da velha cangosta até à
construção, onde existia um contentor que os trabalhadores mal utilizavam, a
latrina móvel usada nas obras, a grua indispensável, montada depois dos
trabalhos de escavação do buraco, e toda a espécie de materiais para a
construção.
Os trabalhos decorreram com uma precisão mecânica. À
distância, pareceu-me que não se perdeu um minuto. O “judeu”, no seu incessante
movimento de formiga laboriosa, fazia tudo andar com uma precisão de relógio
suíço. Um prédio de oito andares, com as caves de betão enterradas debaixo do
solo, foi construído até à cobertura até ao Verão seguinte. Um ano, contando
com todos os trabalhos desde a remoção do quintal pré-existente.
O que mais me espantou em tudo isto foi como aquele homem
conseguiu enfiar um prédio tão grande numa tão pequena nesga de terreno. A
perspetiva de lucro é enorme e poderá assegurar-lhe um lugar no paraíso rodeado
de virgens e finalmente sem nada para fazer. Mas não me parece que seja esse o
sonho que aquele homem persegue, é mais crível que apenas sonhe deitar-se num
travesseiro cheio de notas. Talvez fique a viver numa daquelas suites que está a construir. Enfim, é
difícil imaginar o que lhe passa na cabeça.
Entretanto aquela dúzia de homens que trabalhou
incansavelmente na construção do prédio, também já desapareceu. Provavelmente
rumo a outras obras, se tiveram sorte, outros, talvez, regressaram a Espanha ou
até mesmo aos seus países de origem sem conseguirem trabalho que justifique a
obtenção de um visto de residência neste fruste “el dorado”.
Cheguei a cruzar-me com eles de perto: jovens negros com
roupas excêntricas para os nossos hábitos e headphones
nas orelhas, homens de idade carregada por um trabalho duríssimo que lhes consome
o resto da juventude. E-vem-nos-à-memória os versos de Sérgio Godinho, “vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir
as cidades pr'ós outros, carregar pedras, desperdiçar, muita força p'ra pouco
dinheiro. Que força é essa, amigo?”
Mas o mundo lá fora deu uma volta
por completo indiferente a todo aquele esforço.
No meio do Inverno, a pandemia
espalhou-se pelo mundo parecendo congelar tudo menos aquela obra. Confinados
durante três meses, observámos pela janela as ervas a crescer no chão, por
entre os paralelos da rua. Do mundo, do nosso e do dos outros, recebíamos feedback apenas pelos ecrãs do
computador e da televisão. Estávamos bem, fechados em casa, confortáveis, com
direito a uma ração diária de ida à rua supervisionada pela polícia.
Trabalhávamos o necessário para o mundo não parar totalmente, mantínhamos o
famoso distanciamento social e discutíamos a causa da coisa.
Na obra não se parou um minuto e o
confinamento acabou. Voltámos aos nossos empregos e a carcaça do prédio ficou
pronta, parecendo oscilar na paisagem. Os trabalhos que decorrem agora são mais
impercetíveis. A grua alta e forte que também trabalhou sem cessar durante todo
aquele período cedeu sem um ai à desmontagem perfeita e seguiu empacotada o seu
caminho em cima de um ou mais camiões.
Demorará ainda um ano antes que tudo
esteja concluído, calculo. Depois chegarão os primeiros habitantes, enfatuados
e a armar ao rico, com os seus automóveis que guardarão na garagem. Poucos
estacionamentos à superfície haverá para os poderem mostrar. Na cobertura,
nascerá a apregoada piscina onde no Verão poderão iniciar um invejado bronzeado,
e tudo ficará bem… ou não.
O homem poderá olhar para o
edifício como Deus para o mundo, quando o concluiu, e dizer a alguém a seu lado
que o acompanhe: fui eu quem isto criei. E se houver alguém ao lado dirá
algumas palavras de circunstância, talvez um sim senhor, e siga o seu passeio
reparando na quantidade de prédios, uns de uma forma, outros de outra que
existem na cidade.
O prédio permanecerá por várias
décadas, devorado pelo crescer da cidade. O homem deixará de ser o dono e os
condóminos todos os anos se reunirão para debater os problemas dele imanentes.
Eu ficarei ainda mais uns anos, assim o espero, a guardar a paisagem que me
resta. A rezar para que o filho dos velhos caseiros resista na casa que foi dos
seus pais. Para que os donos do campo continuem na senda do absentismo e mantenham
intacto o espírito pouco pródigo que os caracteriza. E que, depois da circular da
cidade, os campos continuem verdes, episodicamente cruzados por tratores que os
tornam castanhos da terra revolvida. E os montes, para lá deles, continuem
intactos e permaneçam montes muito para lá da minha morte.

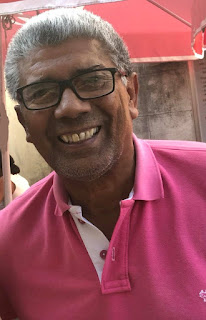


Comentários
Enviar um comentário